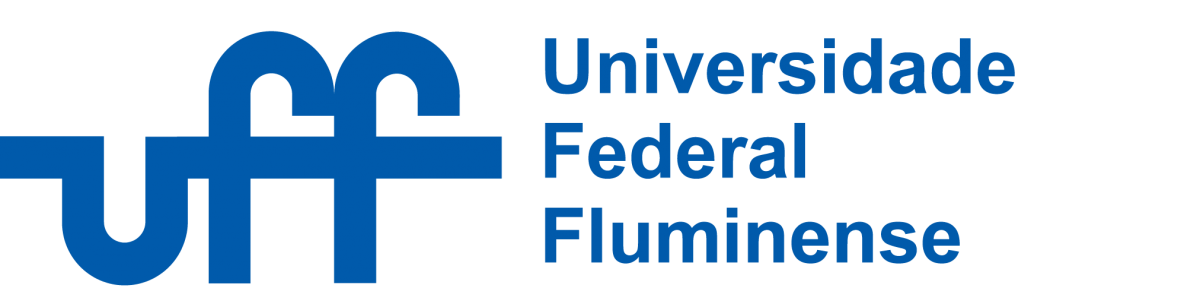Coordenadora: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Introdução
O cuidado em saúde mental no Brasil tem sido historicamente atravessado por estruturas
coloniais, que reforçam desigualdades raciais, sociais, de gênero, entre outras. No âmbito da
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), essas dinâmicas podem ser perpetuadas,
comprometendo a efetividade das políticas públicas de saúde mental. A perspectiva
decolonial emerge como uma proposta para repensar as práticas de cuidado, valorizando
saberes tradicionais, ancestrais, comunitários e plurais. Este projeto de pesquisa visa explorar
como a interseccionalidade pode ser utilizada como uma ferramenta analítica e propositiva
para compreender as desigualdades estruturais presentes no campo da saúde mental e mapear
práticas de cuidado decoloniais no âmbito da RAPS.
Objetivo Geral
Mapear e analisar práticas de cuidado desenvolvidas no âmbito das Redes de Atenção
Psicossocial (RAPS) em diferentes regiões do Brasil, considerando a interseccionalidade
como ferramenta epistemológica para compreender os atravessamentos de gênero, raça,
classe, sexualidade e território na organização do cuidado.
Objetivos Específicos
- Investigar como as perspectivas de decolonialidade e interseccionalidade têm sido
incorporadas nas políticas e práticas dos dispositivos da RAPS. - Identificar experiências de cuidado que rompem com lógicas coloniais, promovendo
modos de atenção e cuidado em saúde mental ampliados, inclusivos e plurais. - Sistematizar práticas de cuidado que envolvem saberes tradicionais, populares,
ancestrais, comunitários e transdisciplinares. - Propor diretrizes para fortalecer o cuidado decolonial e interseccional no campo da
saúde mental.
Conexões Teóricas e Justificativa
O presente projeto de pesquisa está ancorado em uma base teórica que articula conceitos
fundamentais da decolonialidade, interseccionalidade e cuidado no campo da saúde mental,
recorrendo a pensadoras e pensadores em especial do Sul Global, cujas obras oferecem
subsídios críticos para compreender as dinâmicas de colonialidade e suas implicações na
produção de subjetividade e constituição dos sujeitos, em sua saúde mental e nos processos
de cuidado
Aníbal Quijano (1991) introduz o conceito de colonialidade do poder, que compreende a
colonialidade como uma matriz de dominação que persiste após o fim formal do
colonialismo. Essa matriz articula raça, gênero e classe como categorias fundamentais para a
organização do poder e da produção de desigualdades sociais. No contexto da saúde mental, a
colonialidade manifesta-se na naturalização de práticas manicomiais que desumanizam
sujeitos racializados e marginalizados, reproduzindo relações de opressão e exclusão. Para
Quijano, a colonialidade é, portanto, uma estrutura global que organiza não apenas o poder
político e econômico, mas também a subjetividade, reduzindo populações subalternizadas à
condição de corpos descartáveis.
No campo da Reforma Psiquiátrica e das Redes de Atenção Psicossocial (RAPS), o conceito
de colonialidade evidencia como os modelos de cuidado foram historicamente moldados por
estruturas de dominação que invisibilizam as necessidades e saberes das populações
racializadas. Assim, compreender a colonialidade do poder é essencial para propor práticas de
cuidado descoloniais que rompam com as hierarquias impostas pela
modernidade/colonialidade (Quijano, 1991).
Maria Lugones (2020) expande o conceito de colonialidade ao introduzir a colonialidade de
gênero, que aponta como o sistema de gênero foi estruturado pela lógica colonial para
subordinar corpos não brancos e não cis-heteronormativos. Para Lugones, raça e gênero não
podem ser pensados separadamente, pois são categorias interdependentes que moldam as
formas de opressão e exclusão na modernidade colonial.
No contexto da saúde mental, a colonialidade de gênero ajuda a compreender como mulheres
racializadas, indígenas, quilombolas e outras minorias sofrem duplas e até triplas camadas de
opressão, sendo frequentemente invisibilizadas nas políticas de cuidado. Além disso,
Lugones enfatiza a necessidade de práticas de resistência que sejam construídas com as
comunidades, valorizando os saberes ancestrais e as experiências coletivas. Essa perspectiva
é fundamental para o mapeamento de práticas de cuidado descoloniais que promovam a
inclusão de populações historicamente marginalizadas nas políticas públicas de saúde mental.
Frantz Fanon, em suas análises sobre o impacto do colonialismo nas subjetividades, destaca o
racismo estrutural como um dos pilares da desumanização dos povos colonizados. Em
obras como Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra, Fanon explora como
o colonialismo e o racismo criam uma cisão no sujeito racializado, impondo-lhe uma
identidade subalterna e patologizando suas experiências. Ele aponta que o racismo não
apenas cria estruturas de exclusão, mas também produz traumas psíquicos que geram
estados de auto-ódio e alienação.
No campo da saúde mental, a obra de Fanon permite compreender como o sofrimento
psíquico é frequentemente um reflexo direto das condições de opressão e exclusão impostas
pelo racismo e pela colonialidade. Fanon também enfatiza a importância de uma práxis de
libertação, na qual o cuidado deve ser orientado para a emancipação dos sujeitos, rompendo
com as lógicas colonializantes que reduzem as populações racializadas a objetos de
intervenção psiquiátrica.
Justificativa e Conexões Teóricas
A articulação entre os conceitos de Quijano, Lugones e Fanon permite construir uma
fundamentação teórica robusta para investigar as práticas de cuidado na saúde mental. A
colonialidade, enquanto estrutura de poder, afeta tanto os sujeitos quanto os territórios e
instituições, perpetuando desigualdades e exclusões nas redes de atenção psicossocial. Nesse
contexto, é urgente a desconstrução das lógicas manicomiais e a promoção de práticas de
cuidado que valorizem os saberes e experiências das populações subalternizadas.
O projeto se justifica na medida em que propõe investigar e mapear práticas de cuidado que
rompam com as hierarquias coloniais e promovam um cuidado interseccional e descolonial.
Esse mapeamento não apenas contribuirá para a consolidação de políticas públicas mais
inclusivas, mas também fomentará a construção de subjetividades libertadoras, alinhadas com
a proposta de Fanon de superar os traumas coloniais e com a visão de Lugones sobre
resistência coletiva. Por fim, este trabalho se alinha à crítica de Quijano sobre a
colonialidade, reconhecendo a necessidade de transformar as estruturas de poder e saber no
campo da saúde mental.
O processo de transformação do cuidado em saúde mental, no Brasil, iniciou-se no fim da
década de 70 e entre as contribuições para conquistas na saúde mental obtidas pela Luta
Antimanicomial estão: criação do Sistema Único de Saúde (1990), publicação da Lei da
Reforma Psiquiátrica (2001) e implementação da Rede de Atenção Psicossocial (2011).
Sob a influência do movimento da reforma psiquiátrica iniciado na Itália anos antes, surgiram
algumas tentativas de transformação buscando a reversão do modelo asilar caótico e
segregador através da luta dos profissionais de saúde mental. As principais reivindicações nos
projetos de reforma, que inclusive já se encontravam em curso em outros países, eram desde
modificações para readequar o saber psiquiátrico até reformas de cunho mais amplo que
defendiam a desconstrução deste saber.
Temos, pois, propostas de reformas que visam à ‘humanização’ da estrutura hospitalar, da
vida dos internos, e à prevenção das condições que resultariam em adoecimento e internação;
propostas a favor da desospitalização; denunciando a internação como fator iatrogênico na
constituição da doença mental; e outras propostas de reformas, por fim, que indicam a
necessidade de desconstruir o paradigma psiquiátrico e reconceitualizar
saúde e doença mental segundo perspectivas que as alforriem do secular aparato
médico-hospitalar (Barreto, 2003).
Embora exista uma diversidade de estudos no campo da saúde mental no contexto brasileiro,
ainda é preciso investir na abordagem interseccional ao tratar de questões relacionadas à raça,
classe, gênero e manicomialização, como nos alertam David, Vicentin e Schuman (2024), ao
trazerem uma proposta de antimanicomializacao da saúde mental.
Metodologia
A pesquisa será de caráter qualitativo, organizada em três etapas principais:
- Levantamento bibliográfico e documental: Análise das normativas e diretrizes da
RAPS, com enfoque em elementos relacionados à decolonialidade, à
interseccionalidade e à transdisciplinaridade. - Mapeamento de práticas de cuidado: Realização de estudos de caso em dispositivos
da RAPS de diferentes regiões do Brasil, utilizando questionários e entrevistas com
profissionais, usuários e gestores, bem como observações participantes, sempre que
possível.
- Análise de dados: A análise dos dados será guiada pela análise temática e pelo
arcabouço teórico adotado, buscando identificar elementos que caracterizem as
práticas de cuidado identificadas nos diferentes contextos pesquisados.
Resultados Esperados - Identificação de iniciativas e práticas de cuidado que promovam a inclusão de saberes
tradicionais, populares, ancestrais, comunitários e transdisciplinares nos diversos
dispositivos da RAPS. - Sistematização de diretrizes para fomentar o cuidado ampliado, decolonial,
interseccional e transdisciplinar no campo da saúde mental. - Contribuição para a formação de profissionais engajados em práticas inclusivas e
anticoloniais.
Cronograma
● Mês 1 a 3: Levantamento bibliográfico e documental.
● Mês 4 a 8: Trabalho de campo e coleta de dados.
● Mês 9 a 11: Análise de dados e elaboração dos resultados.
● Mês 12: Redação do relatório final e disseminação dos resultados.
Referências bibliográficas
ANZALDÚA, G. Borderlands/La Frontera: the new mestiza. San Francisco: Aunt Lute
Books, 1987.
ANZALDÚA, G. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro
mundo. Estudos feministas, Florianópolis, v. 8, n. 1, p. 229-236, jan./jun. 2000.
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/9880. Acesso em:
30 abr. 2021.
ANZALDÚA, G. La conciencia de la mestiza a conciencia de la mestiza a conciencia
de la mestiza / Rumo a uma nova consciência umo a uma nova consciência. Estudos
Feministas, Florianópolis, v. 13, n. 3, p. 704-719, set./dez. 2005. DOI:
https://doi.org/10.1590/S0104- 026X2005000300015.
DAVID, EMILIANO DE CAMARGO ; VICENTIN, M. C. G. ; SCHUCMAN, L. V. .
Desnortear, aquilombar e o antimanicolonial: três ideias-força para radicalizar a
Reforma Psiquiátrica Brasileira. Ciencia & Saude Coletiva , v. 29, p. 1, 2024.
HOOKS, B. Intelectuais Negras. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 3, n. 2, p.
464-478, jul./dez. 1995.
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.
FANON, Frantz. Os condenados da Terra. Rio de Janeiro: Zahar, 2022.
LUGONES, Maria. Colonialidade e gênero. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de
(org.). Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar:
- p. 52-83
LUGONES, María. Colonialidad y Género. Tabula Rasa, Bogotá, Colombia, n. 9,
p.73-101, 2008.
LUGONES, María. Hacia un feminismo descolonial. La manzana de la discordia, v. 6,
n. 2, p. 105-119, 2011.
LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas,
Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014a.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional
versus identidade negra. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
MUNANGA, Kabengele. Considerações sobre o debate nacional a respeito do
multiculturalismo na escola e das cotas no Ensino Superior. Universidade e Sociedade
Brasília, v. XX, p. 35-44, 2010.
PAREDES, Julieta. Hilando Fino. Desde el feminismo comunitario. 2. ed. México:
Comunidad Mujeres Creando Comunidad, 2014.
QUIJANO, Aníbal. A Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In:
LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais.
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales , 2005.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder y clasificación social. In: QUIJANO, Aníbal.
Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la
colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires: CLACSO, 2014.
QUIJANO, A. América, el capitalismo y la modernidad nacieron el mismo día. ILLA,
Revista del Centro de Educación y Cultura, Lima, n. 10, p. 42-57, jan. 1991.